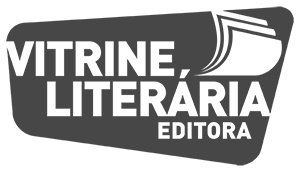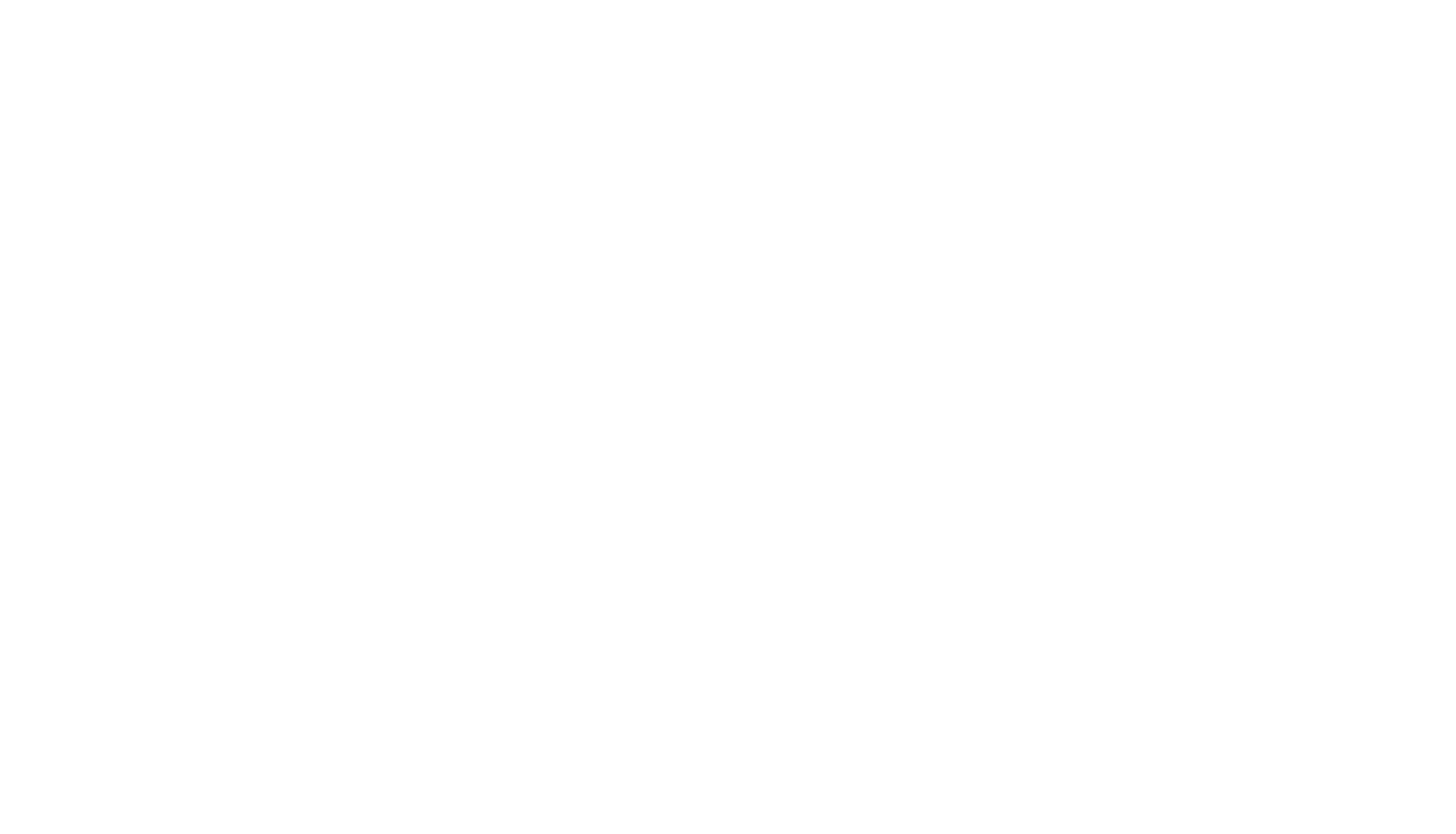FALA VIVA
Primeiras impressões
Parágrafo Novo
UM CENÁRIO PARA A LÍRICA
(Sobre Corpos em Cena)
No teatro clássico francês, aquele que foi construído por Corneille, Racine e Molière e por outros menos cotados, as tragédias e as comédias se estruturavam em cinco atos. Cada um desses atos se dividia em cenas, identificadas estas pelos personagens-atores que se faziam presentes no palco, mudando-se cada uma delas conforme o número deles em palco. Quando o público se defrontava com o anúncio de alguma peça teatral, tinha a expectativa categórica de assistir a uma representação dramática mediada por essas técnicas, ou seja, esperava uma história em cinco atos, cada ato dividido em cenas. Foi baseado nessa estrutura que Eisenstein montou seu filme dialético, O Encouraçado Potemkim. Susanna Busato vale-se dessa estrutura para montar seu livro de poemas, Corpos em Cena (São Paulo, Editora Patuá, 2013, 96 ps.).
Pois o título do livro de Susana nos faria lembrar esse teatro se conhecêssemos a tradição francesa; ou apontaria para qualquer teatro de qualquer época se o leitor costumasse assistir a obras dessa mais completa das artes; ou, se não, referiria o cinema em cujo código técnico a palavra “cena” costuma usar-se, nos roteiros, para definir o espaço de um momento da ação. Mas se lemos o livro todo com suas divisões, nos certificamos de que se trata mesmo de uma referência ao teatro clássico, com seus cinco atos, assim denominados: “Ato 1: Claves em Corpo”, “Ato 2. Sustenidos e Bemóis”; “Ato 3. Corpo em Curva”; “Ato 4. Bemóis”; “Ato 5. Breves e Semifúrias”. Seria, então, uma peça musical? quem sabe uma dança, conforme insinua o título do terceiro ato?
Possivelmente, essas notações encaminham o leitor para a percepção de uma qualidade sensível inerente na arte poética desde as origens, mas cultivada como inalienável da imagem, desde Charles Baudelaire, e operada criticamente desde os grandes simbolistas (Verlaine, Rimbaud e Mallarmé), a saber, a musicalidade. Interpretados como imagens, os poemas se instauram como corpos que se movem segundo um ritmo específico, o das palavras postas em cenas de leitura.
Para o leitor comum – no caso o que escreve este comentário breve – essa musicalidade se faz sentir, antes de tudo, como sequência fônica, que a tradição tornou conhecida como verso e seus constituintes – entoação, intensidade acentual, timbre e medida temporal (métrica)–. Esse leitor se dará conta de que a poeta prefere versos curtos (os elementares e simples) aos longos (os articulados e compostos), os quais se fazem presentes apenas quando o ritmo os exige. Assim acontece por exemplo com os versos horizontalmente longos existentes em “Na serpente de olhos pulsantes” (p. 26). “um caso de amor (p. 36), “palheta” (p. 39), “diálogos íntimos” (p. 41), “as mulheres têm peitos” (p. 52), “A meta física das horas” (p. 69), “Dos meus naufrágios me visto” (p. 75), e nesta “crônica do amor volante”, primor de poema erótico:
Tô chegando, ele disse.
Tô subindo, eu disse,
pelas paredes, louca e demente.
Espero aqui embaixo, ele disse,
enquanto eu, agarrada às correntes,
pelas pernas,
me ungia na urgência
de mais um encontro
com o desespero
do enredo próximo. (p.48)
Mas também o ritmo exigido pela imagem se faz por uma espécie de despedaçamento da frase, que lembra as melodias sincopadas. Assim se apresenta “silêncio”:
Seu
sil
ên
cio
sil
vo
do
ce
do
sol
so
me
de
mim.
Este poema serpentino induz o leitor a uma reconstrução linear e não fragmentada, a saber, “seu silêncio silvo doce do sol some de mim” ou, mais gramaticalmente, “Seu silêncio, silvo doce do sol, some de mim”. Essa reconstrução possível permite detectar a sinestesia sonoro-gustativo-visual, que ocupa o centro do poema e põe em equilíbrio as duas partes extremas, por sua vez componentes do núcleo semântico “seu silêncio some de mim”. Se o leitor quiser avançar mais, atente para o percurso das aliterações em /s/, dominante até a metade da frase, depois em combinação de /s/ com /d/, depois em fuga do /s/ e /d/ para repousar em /m/. Se quiser avançar mais ainda, sinta como esse percurso corresponde ao percurso do sentido e como nesse percurso cintilam prováveis vocábulos monossilábicos (cio, do, sol, me) de que irradiam novos significados.
Outra forma de musicalidade pós-baudelairiana, a que atravessa a instrumentação sonora para atingir os núcleos obscuros da intimidade, também se consegue vislumbrar em outros poemas do livro. Não falo aqui daqueles poemas em que Susanna namora outras línguas como se quisesse esconder o que poderia expressar com a língua portuguesa. Falo daqueles textos dos quais saltam imagens visionárias que lembram o surrrealismo: “Um corpo acorda” (p. 27), “amor” (34), “a duas vozes” (37), “diálogos íntimos” (p. 41), “postes” (p. 53), “exercício das facas” (p. 60), “balada romântica” (p. 64), “A meta física das horas”(p. 69), “Ave aprendiz” (p. 70), “blow up” (p. 79), “antropofagia” (p. 81) e “escrever” (p. 94). Para se ter uma idéia, destaco apenas a seguinte imagem: “olhar cicatriz” (p. 70).
Poderia ainda referir os poemas curtíssimos que podem fazer parte de uma antologia da densidade expressiva. Mas quero finalizar lembrando a terceira forma de musicalidade, a da abstração que pré-existe à execução, quase uma partitura a ser seguida pelo leitor que se arvore em intérprete. Assim sendo, volto ao começo.
Referi, no começo deste comentário, que o livro de Susanna está dividido em cinco atos. Se os títulos de cada um desses atos significam alguma coisa, isto é, se não são arbitrários, indicam uma consciência construtiva. Assim, o primeiro ato, “Claves de Corpo”, nos remetem àqueles signos que , colocados no início do pentagrama, fixam a altura de suas linhas ou espaços. As mais conhecidas e usadas desde o século XV, são as claves de Fá e de Sol, mas também é utilizada a clave de Dó. A clave de fá era considerada a clave de baixo, e a de sol, a clave de soprano. A de dó era mais variável. Mas Susanna usa “claves de corpo”, ou seja, “corpo” substitui, no eixo de seleção (o paradigmático), as claves musicais conhecidas. Corpo fica sendo, portanto, a clave da partitura-livro, Corpos em Cena. Imagino, como leitor abusado, que a clave de sol é a que fixa predominantemente a altura dos poemas, pois estes são predominantemente solares.
O segundo ato vem com o título “Sustenidos e Bemóis”. Como se sabe, essas palavras são usadas para indicarem, respectivamente, a altura da nota elevada ou abaixada em um semitom. Talvez a poeta esteja indicando que os poemas constantes nesse segundo ato devam ser lidos em semitons acima ou abaixo da entoação normal. O quarto ato, “Bemóis”, proporia leitura em semitom abaixo. E o último ato, “Breves e semifúrias”, assinalariam a duração e o ímpeto emocional, se é que “semifúrias” indiquem no eixo paradigmático a substituição de “semifusas”.
Sobraria o terceiro ato: “Corpo em Curva”. Se “corpo” substitui as três claves, ou seja a conjunção de alturas diferentes, “curva” indicaria o movimento entonacional (ascendente, descendente, suspensivo) do “corpo”. A sugestão erótica fica por conta de cada leitor.
Parece-me, pois, que as denominações de cada ato assinalam, paralelamente à ordem dos poemas, a ação construtiva dos mesmos, sua metalinguagem, seja em nível de feitura ou formatividade poética, seja em nível de sua fruição. Escrevi “parece-me”, pois se trata de impressão de leitor. Mas, o melhor mesmo é ler cada poema, atenta e demoradamente.
(Antonio Manoel dos Santos Silva)