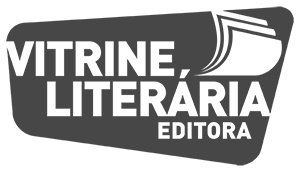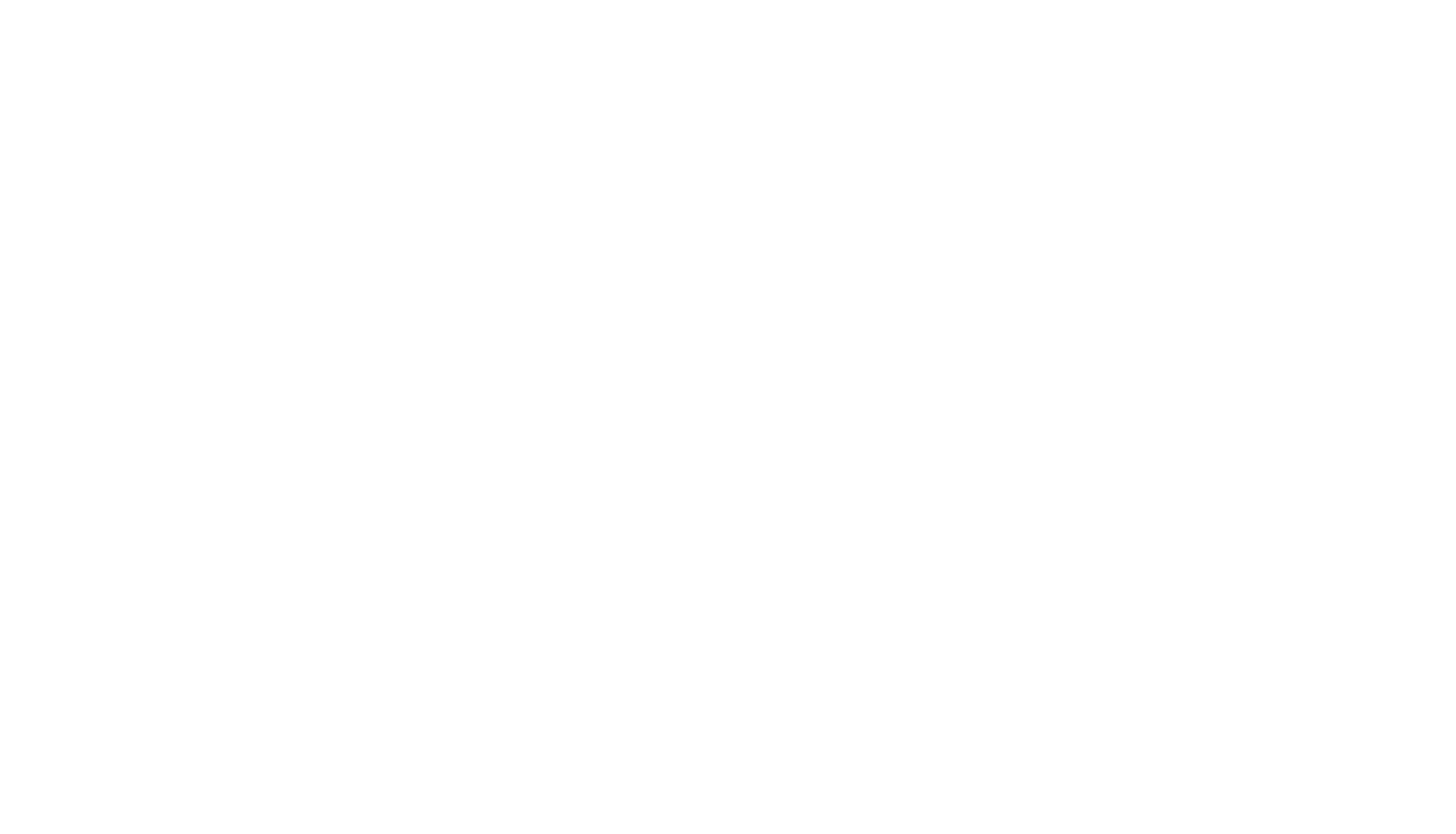FALA VIVA
Comentários impertinentes impertinentesgrafo Novo
Parágrafo Novo
PIANO, VIOLINO E GUITARRA
(A respeito de um livro de contos de Roberto Gomes)
I
Piano
Machado de Assis, numa crônica de 1877, escreveu que a diferença entre um contador de histórias e um historiador se apóia numa convenção erudita (também de classe social), regulada pela cultura do leitor. Se este leu Tito Lívio, sabe distinguir o que é um e o que é outro. Se não leu o historiador romano, que, de resto, fantasiou bastante ao escrever a história de Roma, qualquer narrativa lhe parecerá fruto da fantasia.
Fugindo da ironia machadiana, posso afirmar que Roberto Gomes se caracteriza como um lídimo contador de histórias, daqueles que, atentos à realidade, se conduzem pela fantasia. A realidade que menciono é principalmente a do possível ouvinte dos casos que o escritor inventa ou lembra, ouvinte que, ao fim e ao cabo, é o leitor, tenha este lido ou não Ab urbe condita ou o livro de Maquiavel que discorre sobre a primeira década de Tito Lívio. Presumo que Roberto Gomes consegue manter-se nessa posição graças a dois tipos de experiência: a do romancista que gosta de se inspirar na história ou até basear-se nela e a do cronista que, a cada quinze dias, escreve no jornal paranaense Gazeta do Povo.
São quinze as narrativas deste livro, que possibilitam muitos agrupamentos conforme nossa atenção vá para os temas (a morte, a perversidade, a violência, a sensualidade, o remorso, a vacuidade, a corrupção, o temor das opções, a revelação amorosa), ou para a rica tipologia de personagens (os pusilânimes, os vingativos, os subservientes, os mitômanos, os libidinosos, os tolerantes, os transgressores, os descontentes, os arrependidos, os domesticados, os burladores, etc.), para a estruturação dos motivos fáticos (suspensão, progressividade descritiva, retardamento simples, retardamento multiplicado, alternância, paralelismo, enredo fechado, enredo aberto, final vazio), para a voz narrativa (onisciente total, onisciente parcial, objetiva, subjetiva e até monológica), ou para a própria tonalidade discursiva com todas as variações que o uso predominante da ironia implica.
Seguirei aqui uma forma de agrupamento sugerida pela música, ou melhor, pelos instrumentos musicais que de algum modo interferem na composição narrativa, a saber, o piano, o violino e a guitarra. O primeiro se faz presente em “A guerra do tenente Morais”, o segundo, em “O violino”, e o terceiro, em “A guitarra de Jimi Hendrix”. Os três deixam perceber subtextos que falam dos poderes da música, mas chamam atenção para três modalidades de conto: o anticlimático, o novelístico ou multiplicado, e o de andamento trágico.
Começo pelo piano, ou melhor, pelo décimo conto do livro, “A guerra do tenente Morais” cujo título nos faz esperar uma narrativa de ação, mas que tem negada essa expectativa no decurso de seu andamento e de nossa leitura. A expectativa se torna forte quando lemos a primeira frase, “Os soldados entraram na cidade às seis horas da manhã”, progride quando ficamos sabendo que os adultos haviam abandonado as casas durante a noite anterior deixando nelas apenas as crianças e os idosos, cresce com os preparativos da guardiã da casa, a avó Claudemira, para defender-se e aos netos (Adalberto, adolescente, e Hamilton, menino), atinge o ponto máximo quando um dos netos começa a tocar piano, por volta do meio dia, revelando assim haver gente na casa. Duas horas depois, um soldado bate à porta. Melhor transcrever o texto:
Já passava das duas horas quando bateram à porta. Hamilton, que parecia dormir no sofá, deu um salto e foi atender. Já estava cansado de ficar dentro da casa – quem sabe fosse alguém anunciando que poderiam brincar na praça. Tal foi a rapidez com que o menino chegou à porta que vó Claudemira não conseguiu impedir que ele girasse o trinco. Ela parou no meio da sala. Adalberto interrompeu a música que tocava e Hamilton se viu diante de um soldado imenso, vestido de amarelo escuro, as botas sujas de barro.
Os três ficaram petrificados. Hamilton abriu os olhos enormes, vó Claudemira cobriu a boca com a mão e Adalberto saltou da banqueta.
O soldado bateu uma continência respeitosa, estalando os calcanhares, e disse, de um jeito que parecia decorado:
– Com sua licença, senhora. Venho em nome do tenente Morais, chefe do nosso destacamento, fazer um pedido. Ele agradeceria caso pudesse entrar em sua casa para ouvir um pouco de música.
Adalberto olhou para a avó, que ainda não retirara a mão da boca, e Hamilton continuou fascinado pela mistura de bosta e lama que descobrira no coturno do soldado. O soldado desarmou a continência e esperou. Olhou para os três e, embaraçado com o silêncio, perguntou:
– Permitem?
Adalberto conseguiu destravar a língua:
– Claro, senhor – e percebeu que também ele ficara em posição de sentido e falara de um modo brusco. (p. 88-89).
O trecho capta o momento em que se inverte a peripécia, ou seja, em que se dá a ruptura do psicologicamente esperado. Espera-se uma ação violenta – a invasão da casa, talvez a destruição dos móveis, a caça de possíveis escondidos, o roubo, as coronhadas e até a morte da idosa e dos netos, ou os gritos e ordens intimidadores –, mas se instaura o contrário; o pedido educado, quase submisso, para se ouvir a música tocada ao piano. O conto então se repousa na audição reverente por parte do tenente e de seus soldados, audição que termina com aplausos e elogios. Um corte, à maneira cinematográfica, leva-nos à retirada da tropa: “Eram seis da tarde quando a tropa deixou a cidade”. Tudo volta à normalidade: os adultos voltam para as residências, quando contam sobre suas angústias e seus medos. Fica-se sabem, por intermédio de um policial, que houvera um combate a três quilômetros de distância, mas nada se sabe sobre mortos ou feridos.
O conto, em si mesmo, é de uma linearidade exemplar, com um conteúdo de tempo e de espaço por assim dizer clássico. Entretanto, o miolo da ação fica suspenso, dissolvendo-se num episódio de execução musical no interior de uma casa, num clima de paz e harmonia. A impressão é de que nada acontece, tal como podemos observar com a leitura de alguns contos de Anton Tchecov ou de Machado de Assis. Nada acontece de relevante, que nos casos dos contos de ação, se percebe com a passagem de uma situação inicial, geralmente de equilíbrio, para uma situação final (com novo equilíbrio) graças à uma situação de desequilíbrio e tensão intermediária. Perguntamo-nos se o título foi um engodo: preparou-nos para um conflito, mas mostrou-nos apenas os medos da avó e as inquietações e desobediências miúdas dos netos, e nos introduziu num espetáculo singelo de música fruída por um tenente e três soldados. Onde estaria a tensão ou o conflito?
No meu entender está na narrativa oculta, já insinuada no título, mas que se percebe por alguns detalhes, ora narrativos ora descritivos, segundo uma técnica em que Roberto Gomes é mestre há tempos, pelo menos desde Alegres memórias de um cadáver. Essa narrativa oculta se percebe quando acompanhamos o olhar dos netos, especialmente quando o narrador se detém no episódio da audição musical.
O narrador não se apresenta com onisciência total; adota a estratégia de contar o que pode ser visto ou o que possivelmente foi ouvido; de vez em quando arrisca, graças aos gestos e comportamentos dos netos e da avó, incursionar pela mente deles. É graças a essa focalização que podemos perceber o conflito. Presume-se que soldados e tenente, por fazerem parte da “turma do Getúlio”, participam da linha de frente de uma revolução, ou seja, estão em guerra. Descritos, porém, pelos olhos dos meninos, vemos destacados, nos soldados, as botas sujas (“mistura de bosta e lama”), e do tenente, o “coturno desbeiçado” e alguns sinais exteriores:
O tenente Morais chegou em quinze minutos. Era um homem magro, pálido, com a barba por fazer. Seus olhos miúdos pareciam congestionados, mas seu olhar era calmo e sua voz não lembrava a de um militar. Pediu licença para entrar na casa, cumprimentou os três estendendo a mão esquerda – a direita estava grudada ao corpo, amarrada por um pano que descia de seu pescoço.” (89-90)
A esses sinais exteriores, acrescentam-se outros que denotam a dor no braço, sentida pelo tenente, um sorriso levemente debochado deste diante da reação de seus soldados por causa de um tiro que se ouve como alarme falso, e o conhecimento e o prazer estético desse “chefe de destacamento” militar. Os sinais exteriores revelam o lado da beligerância e da guerra; já o fato de o tenente murmurar o título de cada música (valsas e choros), de cantarolar algumas e de comover-se, identificando imediatamente desde Odeon de Ernesto Nazareth até Flor Amorosa, o primeiro choro, de 1867, de autoria de Joaquim Antônio da Silva Callado, mostra o oposto a essa beligerância, isto é, a interioridade humana que se compraz com o exercício da arte de deleitar-se com ela e com sua memória. Esse é o conflito. Depois desse momento em que o espírito supera, por meio da música, a adversidade material, se espera que algo mude na vida do tenente. O conto não esclarece isso. Sabe-se que houve um combate depois que a tropa deixou a cidade, mas nada se informa sobre mortos e feridos. Este final pouco interessa uma vez que o episódio da audição musical fora o momento culminante da ação, valendo, porém, por marcar estruturalmente a abertura do enredo.
No livro há outras narrativas de enredo aberto e todas elas trazem em seu núcleo estrutural o jogo da duplicidade entre a superfície aparente, que a primeira leitura consegue captar, e a história subentendida, que exige leituras mais analíticas. Dentre elas destaco: “A mãe do Alcebíades”, que parece – só parece – dialogar com “A cartomante”, de Machado de Assis; “Essa moça não presta”, um “divertimento” com finura satírica sobre as intuições maternas e suas ferozes premonições certeiras; ”O vento sul” texto em montagem alternada onde, se medindo o passado com o presente, se entrevê o vácuo deixado pela falta de decisão existencial; e” As invencionices de Dom Antônio”, primor de discurso irônico e metalinguístico, cujos alvos são as excentricidades artísticas, as mesmices disfarçadas de invenção, as críticas parafrásticas e a própria metalinguagem, portanto, o próprio conto.
(continua)
Antonio Manoel dos Santos Silva
(fevereiro de 2015)