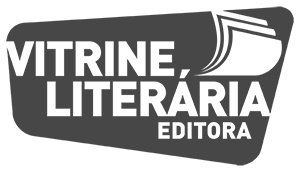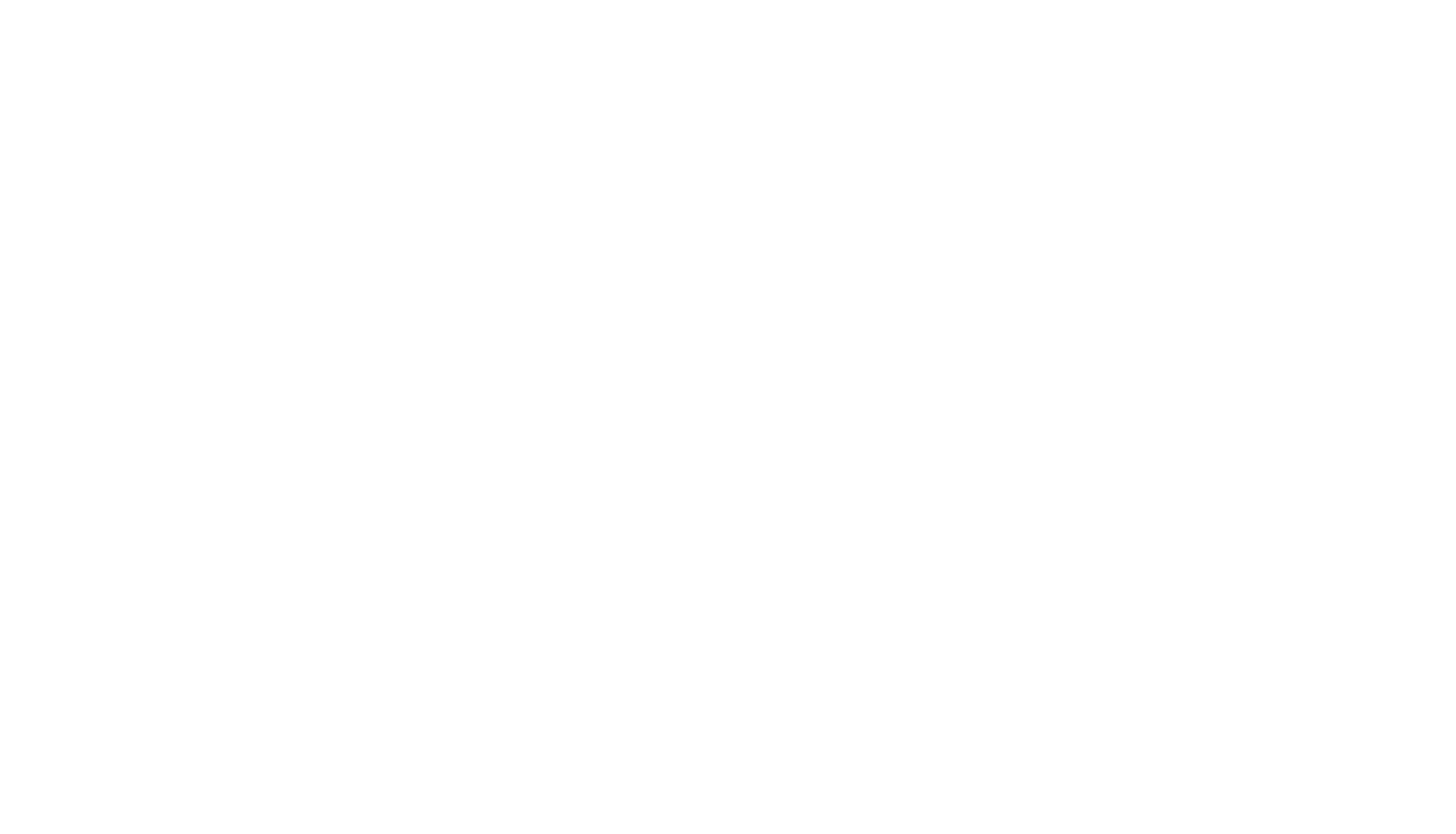FALA VIVA
Primeiras impressões
Parágrafo Novo
OS ESTRANHOS PERSONAGENS COMUNS DE CHICO LOPES
Gostei de ler o último livro de contos de Chico Lopes, Hóspedes do Vento (São Paulo, Nankin, 2010). Não se trata de livro de estréia, pois o autor já havia publicado Nó de Sombras (2000) e Dobras da Noite (2004). Os títulos dessas obras anteriores sugeriam coisas estranhas e perguntas sobre estranhas possibilidades: seria possível haver nó de sombras? seria possível haver dobras na noite? Aquelas, as sombras, seriam cordões ou cordas e esta, a noite, seria um tipo de lenço, de lençol, de guardanapo, de folha de papel? Com um pouquinho de imaginação sensível, nos daríamos conta de que esses títulos mostravam que a realidades fugidias ou fluidas ganhavam solidez e que a estranheza das relações adquiriam a proximidade palpável da concretude.
O novo título também sugere coisas insólitas. Sugere, por exemplo, a existência de seres humanos que buscam abrigo, descanso ou repouso temporário em algo naturalmente instável; por isso mesmo sugere que tais seres humanos estão ou se sentem, por algum motivo, perseguidos, cansados por algum trabalho penoso ou inquietos por alguma angústia. Mas sugere também, por sua simbologia (basta lembrar os clássicos, principalmente Horácio, e os poetas barrocos), que somos, os humanos, seres que passam, que se limitam a uma existência fugaz. Poderíamos transler o título assim: Hóspedes da Vida. Se assim somos, então somos viajantes, talvez turistas involuntários, que um dia nos instalamos nessa casa, a vida, para noutro dia, em determinada hora, sairmos dela. Pagando a conta antes, é claro. Essa conta é o x temático de todos os contos do livro.
Houve um estudioso alemão – tinha que ser alemão – que, buscando facilitar o entendimento das narrativas de ficção, propôs uma classificação delas em três categorias: de ação, de espaço e de personagem. Em Hóspedes do Vento não temos contos centrados na ação, embora se possa descobri-la, em todos eles; também não temos contos centrados no espaço, embora as referências ao espaço (paisagem, ambientes internos e externos) se encontrem de modo significativo. O que temos são contos cujo foco é a personagem, isto é, a representação de seres humanos cuja complexidade interior move as narrações. Se usássemos a ideia de que o “vento” se identifica com a vida e que a vida é nossa casa provisória, nossa hospedaria enfim, poderíamos dizer das personagens do livro, pelo menos as principais, que estão prestes a fechar a conta e devem verificar as despesas extras, a correção das diárias, os gastos involuntários, quiçá negociar descontos ou pechinchar o tempo de tolerância. Se não vejamos, a começar dos narradores.
Chico Lopes prefere, em oito dos doze contos, que os narradores de suas histórias as narrem como se fossem uma câmera que acompanhasse a personagem principal. O leitor, quando se detém nesses contos, arrisca-se a confundir o narrador com o autor, o próprio escritor Chico Lopes. Acho até que se trata de um estratagema que, no caso deste livro, possui uma justificativa estética. Pois, se o universo humano se caracteriza, na representação ficcional, por ambiguidades e estranhezas, nada mais coerente que não se saiba distinguir bem entre narrador , uma invenção do autor, e escritor, que cria o narrador.
O narrador que acompanha o personagem principal vê o mundo pelos olhos deste, ouve pelos ouvidos deste, analisa e interpreta os outros com que este se relaciona, seguindo a mente deste. De vez em quando a perspectiva se torna múltipla, como se houvesse uma mudança de foco. Assim sendo, a complexidade do mundo nos chega intermediada, mas também permite ao narrador mostrar detalhes da realidade que envolve as personagens, desenhando-as ora com delicadeza e compreensão compassiva, ora com objetivo distanciamento, ora com tonalidade irônica, ora com pinceladas que deixam emergir o grotesco.
Uma das notas relevantes nesses contos com narrador externo e que serve ao autor para marcar o distanciamento, é o fato de que poucos são os personagens principais com nome próprio. Esta ausência se verifica em “O Assovio”, “O nome no ar”, “Perdendo Heitor”, “Dois no espelho”, “Certo pássaro noturno”, de modo que a identidade deles se percebe pelo que os linguistas chamam de “não pessoa” e que, nós, menos especializados, denominamos terceira pessoa (ele ou ela). Esse distanciamento autoral adquire em “O caso dos pés” outra configuração, pois o pobre herói, literalmente pobre, esconde o próprio nome, substituindo-o por Wellington.
Essa ironia, que aliena as personagens de um nome, observa-se com o nome de “Graça”, a heroína que se percebe irreconhecível quando volta à cidade de sua infância e juventude, em busca do antigo amante e ídolo, do qual foge quando está prestes a encontrá-lo, por pressentir que ele também estaria irreconhecível. O final antológico desta narrativa sobre a estranheza, sobre o desconhecimento de si e dos outros, sobre o pavor diante de uma realidade que pode apagar a memória do passado, desloca o nosso olhar (da mulher que corre até o elevador, descendo por este) para o homem que vai abrir a porta do corredor sem encontrar quem batera à porta. Cena cinematográfica em que as imagens e os tempos se sobrepõem:
O homem de que se lembrava não tinha nada a ver com os passos lentos que percorriam, agora, o carpete, em busca de quem batera à porta. Nada a ver com o tipo fatigado e curvo que, desapontado com o vazio no corredor, na certa perguntaria ao recepcionista dias depois quando saísse (e se ainda saísse): — Afinal , quem era ela? (p. 106)
A pergunta vale igualmente para quem a formula ou formularia, e vale para “Wellington” e para boa parte dos seres sem nome, o que não quer dizer sejam personagens vazios. São seres complexos e intrigantes, atormentados por sentimentos contrários, como o desejo e a repulsa, o amor e o ódio, as lembranças do passado com as quais reavivam o presente às vezes com prazer perverso, às vezes com penosa frustração. Desvia-se um pouco dessa tensão interna o errático personagem do belíssimo “Certo pássaro noturno”, que lembra no tema um famoso conto de Machado (“Cantiga de Esponsais”) e, no modo de expressão,o andamento de Kafka.
Quanto aos demais textos com narrador em terceira pessoa que segue o personagem central, vale a pena que se leiam “Hóspedes do vento”, que dá título ao livro, e “A recusa”. Cada um desenvolve de maneira distinta e até simetricamente opositiva, o motivo do outro ou do duplo; aquele deixa entrever, nos atos e pensamentos de seus personagens errantes, a transformação interior que se opera durante a peregrinação cheia de sofrimento, de modo que um (Mário) alcança o objetivo que parecia fantasia no outro (Neno); este, “A recusa”, contrasta o conflito entre um homem maduro, mais inseguro, que sente o avanço dos anos e a iminência da morte, apesar do apelo da vida, representada por uma jovem “inexperiente”, e outro, impulsivo, que, ao abordar a esta, vai “acrescentar um nome à sua lista de pássaros abatidos” (p. 91).
Como referi mais atrás, esse modo de narrar grudado nas personagens (não com a voz dos mesmos), possibilita referências tanto à paisagem física quanto ao mundo social. Então, nesses momentos fica bem nítida aquela qualidade artística, ou, se quiserem, aquela força poética, que perpassa sutilmente por toda a escrita de Chico Lopes. Como diria Mário de Andrade, nesses momentos fica muito claro que Chico Lopes não só escreve bem – o que é dever de todo escritor – mas escreve “milhor”, o que caracteriza todo artista genuíno.
Uma das tentações da escrita “milhor”, ou poética, consiste em fazer da escritura uma realidade tão espessa, que se torna incomunicável. Se essa espessura da linguagem se verifica em narrativas, estas acabam por fugir de sua natureza que é “narrar”. Neste livro, a espessura da floresta não esconde as árvores, nem se torna indevassável; pelo contrário, existe em função da história que se conta. Veja-se, por exemplo, este trecho que prepara o final do “Hóspedes do vento”, quando o personagem Mário, já se sentindo o outro, Neno, percebe ter atingido o objetivo de sua busca sofrida, na realidade a busca que o outro punha no horizonte futuro:
Ao entardecer, o barulho, chilreios, chamados, a agitação preta nas folhas, fez com que se erguesse. Tinham chegado, os chupins, dezenas, e outros iam se aproximando, se enfiando entre os verdes, ao fundo um céu entre rosa, cinza e alaranjado com uma sucessão revoante de pontinhos pretos. Ergueu-se, abriu os braços, não sabendo como saudá-los senão assim, camisa aberta, arreganhado, ele Neno, ele total,a mangueira repleta. Partiu rumo à casa, ao quintal, com as mãos em concha, capaz de adivinhá-los, formá-los, mas, no caminho, os joelhos se dobraram. (p. 42)
A cena me remete ao impressionismo, algo de Seurat, algo de Monet, do mesmo modo que a descrição abaixo me fez lembrar, durante a leitura, as representações do grotesco:
(…) pareciam curvar-se às barrigas de cerveja e massas como quem se curva para tombar nas covas iminentes; pesados, em todos os sentidos, entregues àquelas conversas, ao jogo de baralho nas muretas em torno do parque, olhando uns para os outros com um fastio indescritível, catando mosquitos; com ares contritos, como que em perpétua prisão de ventre, andando lerdos como se um tédio os pregasse ao chão e tornasse seus movimentos difíceis – e eram as bermudas largas, aquelas pernas brancas, brancas, com suas raias azuis de varizes, as calvas brilhantes com fios de cabelo grisalho a voejar, por vezes dedos indicadores enfiados na boca, em busca de restinhos da comida opulenta dos restaurantes… (p. 72-3)
O trecho satírico mostra um dos pendores expressivos dos contos em terceira pessoa, quando o narrador se volta para o ambiente urbano das cidades do interior em que os habitantes, deslumbrados com as metrópoles que vêem pela televisão, desfazem-se do espaço que lhes garante o pertencimento e a identidade em detrimento de simulacros do progresso. Essa descaracterização se harmoniza com a desintegração das personalidades, as divisões do eu, os sujeitos duplos ou especulares. Fato que se verifica também nos contos em que os próprios personagens narram sua própria história: “A mulher do cantor”, “O quarto da atriz”, “Estrela de junho” e “Episódio de caça”, este último um dos mais perfeitos contos que conheço sobre a estranheza e a busca dramática – inútil, por certo – da identidade.
Não posso omitir, no fim desta “Primeira Impressão”, que o livro de Chico Lopes apresenta alguns símbolos e mitos dignos de estudo mais aprofundado. Dentre os símbolos, o da árvore primordial e o dos pássaros; dentre os mitos, o do paraíso perdido e o da revelação. Arriscaria dizer que há nos contos algumas situações mítico-simbólicas que, tratadas invertidamente, nos fazem perceber narrações anti-epifânicas. Mas isso já é assunto de tese e não de um artigo como este.
Antonio Manoel dos Santos Silva
(São Paulo, 28 de abril de 2011)