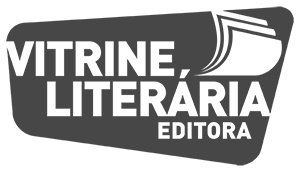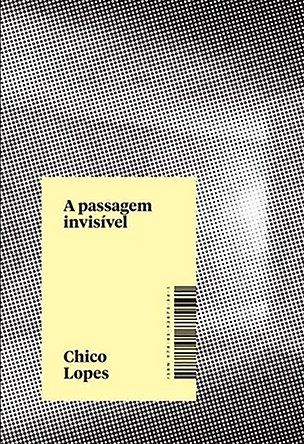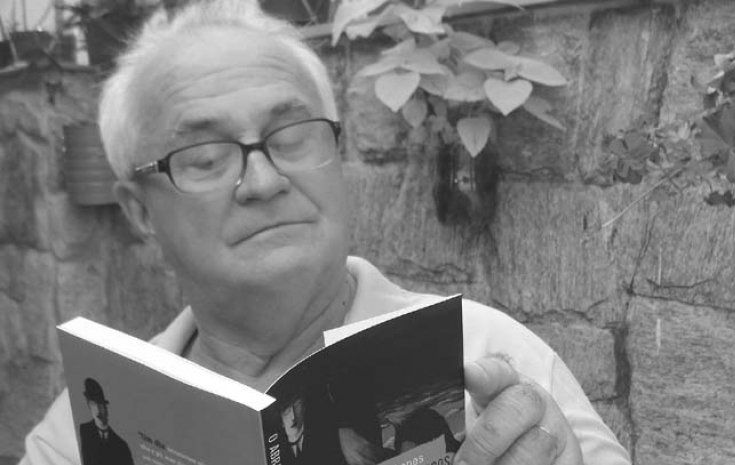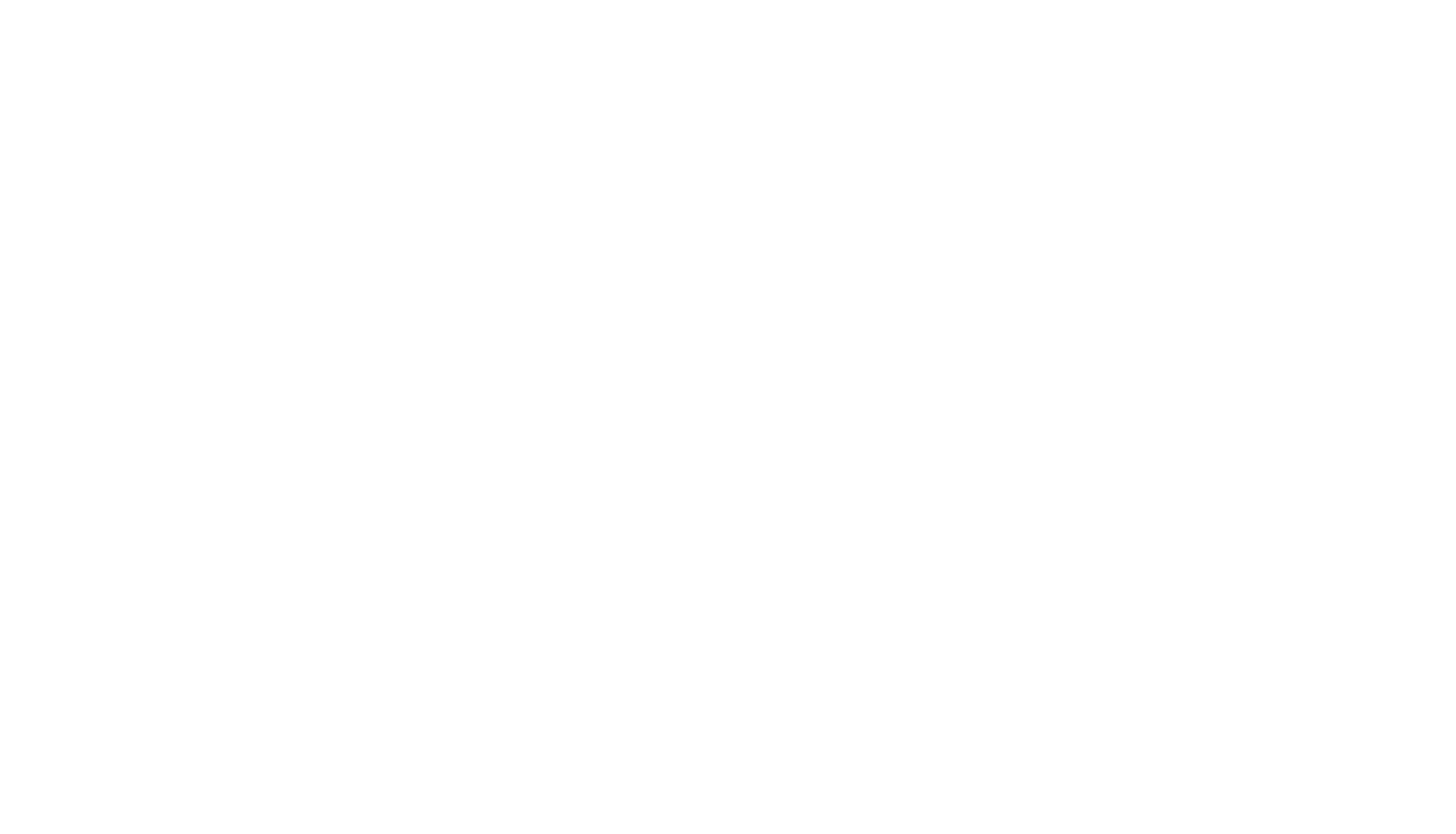FALA VIVA
Primeiras impressões
Parágrafo Novo
A PASSAGEM INVISÍVEL DE CHICO LOPES
A Passagem Invisível (São Paulo: Editora Laranja Original, 2019, 161 p.), contém oito narrativas, classificadas, na ficha catalográfica, como contos. Mário de Andrade diria, se estivesse vivo, que são contos, já que o autor assim aceita a denominação, que a editora confirmou. Não tenho dúvidas de que quase todas sejam contos pela dimensão (poucas páginas), pela unidade dramática (em termos de espaço, tempo e ação), pelo núcleo temático e pela focalização discursiva. Mas há uma narrativa que desorienta as minhas informações, um tanto quanto acadêmicas, sobre o gênero, qualquer que seja a diretriz estabelecida pelos teóricos e, ocasionalmente, por grandes contistas (Poe, Cortázar e Horacio Quiroga, por exemplo); trata-se do texto que fecha o livro: “Bilico, Oceano e Graveto”. Este título e o tamanho físico (46 páginas) me remetem às Novelas Exemplares de Cervantes, com as quais sinto ter, essa narrativa, um certo parentesco. Adianto, porém, que o autor deixa sinais mais consistentes de outras afinidades eletivas. Seria, o último texto, uma novela? A classificação, porém, importa menos que outros aspectos.
O primeiro desses aspectos diz respeito aos narradores, ou seja, àqueles personagens que o autor criou para nos relatar as histórias. Em apenas dois contos, “O legado” e “Um gesto no escuro”, Chico Lopes escolhe como narrador um dos personagens de sua ficção. Nos demais a narração nos chega por meio de uma voz em terceira pessoa, o que pode induzir o leitor não precavido a identificar essa terceira pessoa com o autor empírico, embora algum leitor mais instruído nas artimanhas dos escritores de ficção, possa identificar aqui e ali vestígios da presença do Chico Lopes em pessoa.
Entretanto, um fato artístico marcante é que as primeiras pessoas que narram em “O legado” e “Um gesto no escuro” não se identificam com um nome próprio. São apenas e somente “eus”, ou seja, pessoas que se garantem ficcionalmente pela autonomia do texto e, paradoxalmente, seres cuja voz discursiva deixa evidente sua complexidade humana, seres que se impõem por essa identidade de ser e de ter um eu. Assim sendo, se o leitor tiver a curiosidade de definir a “personalidade” desses narradores-personagens, terá o trabalho de analisar seu discurso narrativo.
Quem é o narrador-personagem de “O legado”, que função desempenha na narrativa, além de narrar? Que história conta? À primeira vista é um personagem secundário que investiga, a mando da mãe (Ermelinda), um indivíduo sem moradia fixa (Alonzo ou Enrique), que ocupa provisoriamente um quarto de edícula de uma casa precária. O narrador deixa escapar sua própria idade, 19 anos, o que lhe permite chegar à idade do investigado, ou seja, 39 anos, pois este deixa escapar ter 20 anos a mais. Sempre por informações indiretas ou mediadas, o narrador nos mostra que o investigado cultiva a ironia e o despistamento, é de origem hispano-americana (de algum país que também fica na penumbra), parece muito culto ou lido, pode ser o poeta que ele mesmo elogia e tem opinião controversa sobre os autores de literatura: “Autores são ruínas humanas, contradições” (p. 43), opinião que a mim me parece indício de autoironia do Chico Lopes. Por meio dessa narração que condensa múltiplas informações, Chico Lopes nos mostra como sabemos pouco de nossos vizinhos latinos, sobre as quais nos chegam notícias fragmentadas e incertas, visões de turistas, clichês batidos e repetidos por “cachaceiros desprezíveis” ou em conversas de botecos. O autor Chico Lopes exibe, por essas estratégias que mobilizam signos de indício e de sugestão, uma história sutilmente desenvolvida de homoerotismo entre o personagem-narrador e o personagem investigado, história cortada antes de sua complementação física mas que impregna e domina a interioridade do jovem narrador. Esta é, em minha opinião, o verdadeiro conteúdo: a investigação feita pelo jovem narrador acaba subvertida, isto é, a investigação torna-se a revelação da interioridade de quem investiga. Coisa de mestre!
Esse caminho invertido não se observa em “Um gesto no escuro”, embora se possa ver neste conto em primeira pessoa a pesquisa da identidade do outro, uma viagem meio proustiana ao passado do “si mesmo”. Esse outro é também estrangeiro e hispânico, Guillermo, um pai arredio até o fim, um pai que frustra a busca empreendida pelo filho, o narrador-protagonista já idoso, cujas lembranças não consegue explicitar com clareza em seu discurso. Mais do que o conto anterior, neste, a casa entra como símbolo do abrigo de lembranças disfóricas sobre a mãe leniente e o pai amedrontador. O ambiente escuro reflete esse lado psicológico.
Quando lemos os demais contos, identificamos o narrador não personagem da ação, um narrador que a nova crítica (de extração norte-americana) costumava caracterizar como ponto de vista externo, com duas variantes, o externo objetivo e o externo onisciente, ora total (o narrador conhece tudo sobre todos) ora limitado. Chico Lopes prefere o narrador que se restringe ao personagem principal e por assim dizer filma o que se passa com esse protagonista em ambientes noturnos e, geralmente, composto de ruínas e de miséria; é o que vemos em “A passagem invisível” (o primeiro dos contos), “A chave”, “A lâmpada” (um primor de narrativa), “O sussurro”, “White Christmas” (denúncia de violência policial e de racismo). Também esse constitui o foco narrativo dominante em “Bilico, Oceano e Graveto”, conto no qual o protagonismo é compartilhado por três personagens e que, ao contrário dos demais, diminui a configuração daquela presença que Borges considerava a seiva de qualquer conto, isto é, a morte, morte que constitui uma espécie de orientação --ora anunciada abertamente, ora preparada lenta e meticulosamente, ora abrupta ou inesperada -- da ação. Detenho-me na última narrativa do livro.
Fiquei com dúvidas sobre o gênero desse texto quando comecei este artigo. Ao contrário dos demais, que expõem um momento decisivo da vida individual, que é a culminância ou a ameaça da morte, num espaço fechado e num tempo diminuto que lembra a tragédia clássica, aqui, em “Bilico, Oceano e Graveto”, o espaço é extenso (uma cidade), o tempo são dias e meses, o momento são histórias dispostas alternadamente, na ordem de leitura, mas simultâneas enquanto diegese (o conteúdo fictício representado) da vida de três homens, cada qual com um pendor artístico próprio: a literatura, a pintura e a música (poesia). São amigos; por isso, se pode dizer que há uma unidade dramática que funde as três vidas numa ação que se diferencia em três impulsos que se refletem pela arte Tal unidade dramática, uma espécie de ponto de fusão, se denomina “amizade” ancorada ou enraizada nesse núcleo do fazer expressivo. Não é, porém, apenas isso, porque esse núcleo se irradia para a coparticipação em pequenas aventuras de falso risco, em confidências sobre a vida e os sentimentos de cada um, em confissões sobre amores não correspondidos e sobre separações mal esclarecidas. A comunidade constitutiva deles encontra seu lugar de convivência típico num boteco frequentado por outros grupos, por pobres coitados, por solitários. Aqui o narrador passa por figuras que deixam sinais de existência infeliz ou fora das normas: o solitário bebedor de Campari com seu lugar cativo, a transsexual exibicionista e despachada, o dono do bar que tolera, por causa do dinheiro, a frequência de gente indesejada. Esse conjunto caoticamente organizado a partir da perspectiva do três personagens que dão nome à novela (pois se trata realmente de novela) deixa-nos entrever uma cidade interiorana com suas indefectíveis e blindadas famílias da elite econômica (os Bertoni, os Begale e os Benvenutti) típica do mundo urbano-rural, que pairam acima da massa de trabalhadores e dos pobres coitados que são postos à margem.
Dois personagens possuem nomes próprios, além dos apelidos: Bilico, o escritor, é Abílio; Oceano é Osório. Graveto não tem, além deste apelido, seu nome revelado, embora o narrador deixe a pista de que se trata de alguém com pai alemão e mãe portuguesa. Se desmembradas em relatos, as histórias de vida de cada um poderiam constituir aquele tipo de novela em que os episódios diferentes acontecem num mesmo lugar, a cidade do interior; se assim fosse o leitor perderia de vista a força , tão humana e rara, dessa virtude afetiva que confina com o amor e o bem-querer, mas não é nenhum dos dois. Tal virtude se percebe principalmente nas conversações, dentro do boteco ou fora dele, nas ironias imediatamente corrigidas, nos gestos cifrados, no compartilhamento dos sentimentos de pesar e de frustração por alguma perda familiar ou amorosa, no enlevo orgulhoso por algum sucesso, na admiração sem inveja pelo dom artístico do outro, enfim e em resumo, pela concórdia das diferenças. Para o leitor curioso, aconselho a leitura da cena em que Oceano e Graveto trocam confidências sobre suas artes e seus sentimentos.
John Dewey assevera, em alguma parte de sua Art as Experience, que toda obra de arte valiosa constitui uma experiência individual que condensa de modo transfigurado outras experiências quer pessoais quer alheias. É o que senti lendo os contos de A passagem invisível e, muito particularmente, a novela que conclui esse livro, onde fica evidente a condensação expressiva das experiências do escritor (contista, crítico de literatura e de cinema, romancista, cronista e memorialista), do pintor e do poeta,
Antonio Manoel dos Santos Silva
(São Paulo, 28/09/2020)